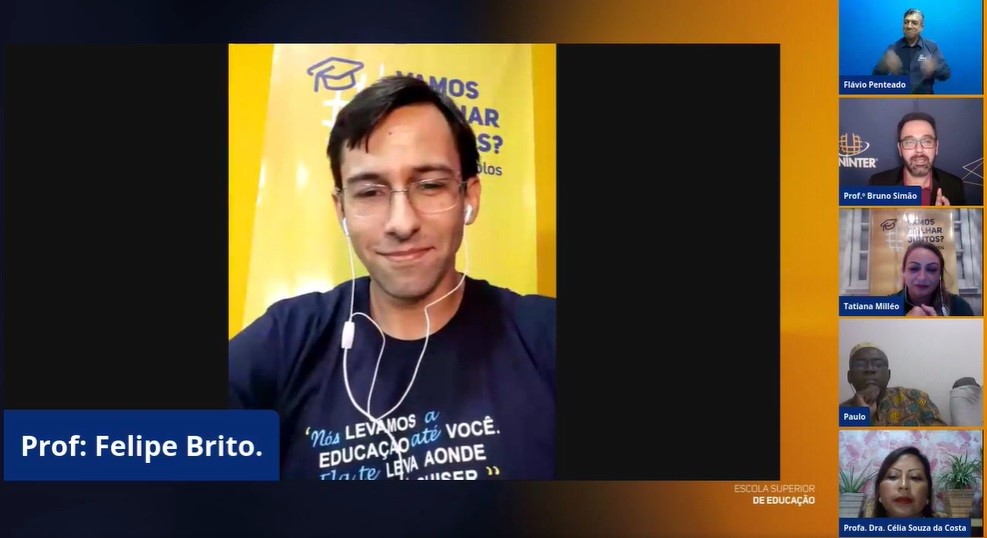Multiculturalismo ainda sofre resistência na educação brasileira
Autor: Nayara Rosolen - Estagiária de Jornalismo
Raça e etnia são dois termos mais comumente associados a pessoas negras e indígenas, mas há um equívoco. Todo mundo possui uma etnia e uma raça, inclusive as pessoas brancas. As relações étnico-raciais ajudam a pensar as dimensões históricas e raciais, assim como construir o multiculturalismo.
A psicanalista Thayz Athayde, mestre e doutora na área da educação, explica que o colorismo e a branquitude são dois movimentos que colaboram nesse sentido. O primeiro surge para quebrar a homogeneização de pessoas negras e mostrar que existem indivíduos da mesma raça com tons de peles e fenótipos diferentes. Já o segundo, responsabiliza as pessoas brancas e coloca-as para refletir sobre como podem atuar na luta antirracista.
O tema vem sendo inserido no ambiente escolar nas últimas décadas e algumas leis promovem esse debate. A lei nº 10.639, de 2003, coloca a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira dentro das disciplinas que já fazem parte da grade curricular. Em 2008, a lei nº 11.648 reforça a importância da multicultura e inclui a história indígena. O professor Bruno Simão, que atua na Escola Superior de Educação (ESE) da Uninter, afirma que o ensino começa com ações simples, como quando as crianças recebem uma caixa de lápis de cor com várias tonalidades de cor de pele.
“Queira ou não, o espaço político de discussão mais real é o chão da escola. Se o aluno não sair da escola contemplado, com boa parte das perguntas respondidas, para que serve a escola para ele? Porque ele leva as questões para casa, os pais muitas vezes não estão em condições de responder. Ele leva para os grupos de amizade, os amigos não querem falar sobre o assunto. Agora, se a escola não tiver a resposta naquele dia, que traga alguém para fazer essa fala para eles”, diz o professor Paulo Antônio dos Santos, militante há 34 anos na Associação Cultural de Negritude e Ação Popular (ACNAP).
Apesar de alguns profissionais ainda resistirem à ideia de se trabalhar essas questões dentro de sala de aula, a professora Célia Costa, doutora em educação e especialista em docência, afirma que são pautas fundamentais, já que “é no ensino que acontecem os debates, os acessos às informações”. A profissional questiona se a escola tem desempenhado esse papel e qual história tem recebido vozes e holofotes na educação brasileira. “É conhecendo o outro lado que as escamas da ignorância cairão”, salienta.
A professora Thayz diz que os desafios são muitos e faz uma provocação sobre os profissionais da área não pensarem em autores e autoras negros, como Lélia Gonzalez, importante pesquisadora brasileira. Ela acredita que o chão da escola é um reflexo do que vem de fora e que boa parte da sociedade ainda crê em uma democracia racial, tendo brancos, negros e indígenas os mesmos direitos.
“Muita gente ainda acredita que pessoas negras só não chegam nos lugares porque não querem, mas a gente sabe que no dia a dia não é isso que acontece. Eu até convido você a fazer o que a gente chama de teste de pescoço. Agora a gente não está podendo sair de casa, mas quando vocês saírem, olhem quem é que está sendo servido e quem está servindo, quem está ali limpando e quem está como protagonista, a cor dessas pessoas”, diz.
Paulo lembra de algumas leis que surgiram mascaradas de liberdade, como a Lei dos Sexagenários, a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea, que não deram amparo à população negra. Ele acredita que a lei 10.639 chegou tardiamente, mas que é necessária e que os docentes precisam sair da zona de conforto para que se torne efetiva.
O professor sente pelas desconfianças e questionamentos que a comunidade negra ainda recebe. Segundo ele, muita gente ainda desacredita e solta comentários sobre a violência sofrida e um possível “fingimento”. “Isso é uma agressão absurda, quando alguém diz que o povo negro, com toda a sua história, que tem 350 anos de escravidão, vem dizer para mim que estamos nos vitimizando”.
A professora Sônia Radvanskei, também da ESE, ressalta que “se a gente está falando muito, é porque não está ultrapassado, porque não temos todos os conhecimentos, porque a sociedade ainda não compreendeu. Informação é uma coisa, ler capa de livro é uma coisa. Agora, você conhecer e saber, a gente tem que estar muito atrelado a esse conhecimento. Conhecimento, não senso comum. E não ter uma barreira, viver em uma bolha, isso que a gente tem que tomar cuidado”.
Para Célia, existem alguns desafios perante os profissionais da educação, barreiras que dificultam o ensino multicultural, os quais ela chama de “armaduras”. As cinco questões pontuadas são a má formação do professor; a inexistência de um órgão dentro do Ministério da Educação (MEC) que conduza as relações étnico-raciais; a demonização das religiosidades africanas, afro-brasileiras e indígenas; o desconhecimento do continente africano como berço do conhecimento; e a existência do mito da democracia racial.
Já Thayz acredita que uma forma de rever a postura dos professores em sala de aula é pensar o famoso “lugar de fala”. “As pessoas acham que lugar de fala é o lugar de calar a boca. Não, lugar de fala é o lugar de pensar em que posição nós estamos. Isso para o professor, para a professora, é algo importantíssimo, de pensar nessas relações de poder. Quando o professor pensa nisso, ele já fala de uma outra forma com o aluno. Será que esse professor é branco? De que forma ele pode também falar de racismo a partir desse lugar? Isso é importantíssimo, porque ele vai falar também qual é o papel dele nessa luta antirracista”, complementa.
Em relação à população indígena, Célia lembra que os povos indígenas são muitos e cada um tem sua própria língua, modo de viver, assim como rituais, lendas e mitos próprios. É importante que os docentes não trabalhem o conhecimento referente a eles de forma homogênea, mas apresentem os conteúdos de forma mais aprofundada.
“Muito cuidado para que não seja estigmatizado esse povo. Sempre tratar povo indígena a partir do nome, não colocar todo mundo em uma panela só e dizer ‘índio é tudo igual’. Não são todos iguais, cada um tem a sua cultura e a sua história. E é muito importante que seja trabalhado isso em sala de aula para que não continue esse processo de invisibilidade que se gerou na educação brasileira”, finaliza.
Os profissionais debateram sobre o assunto no primeiro bloco da segunda noite do 1º Colóquio de Práticas, transmitido ao vivo no dia 25.fev.2021, na página da área de Educação da ESE. No segundo bloco, o bate-papo seguiu com a participação da professora Tatiana Milléo, do polo de Guaratuba (PR), e do professor Felipe Brito, dos polos catarinenses de Itajaí, Navegantes e Balneário Camboriú. O evento foi encerrado com um momento cultural entre a professora Fernanda Gusso, da ESE, e a psicopedagoga Gilza Santos, que atua com literatura infanto-juvenil e contação de histórias.
Autor: Nayara Rosolen - Estagiária de JornalismoEdição: Mauri König
Créditos do Fotógrafo: Nappy/Pexels e reprodução